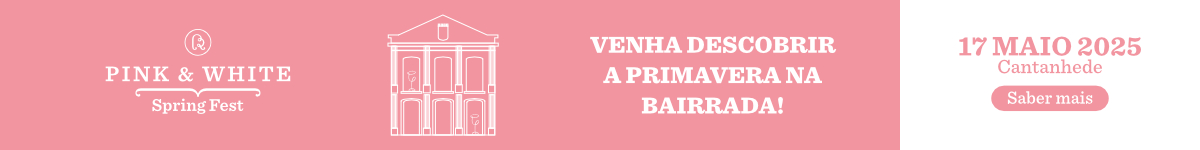Desde o lançamento da primeira Revista de Vinhos, em dezembro de 1989, foram cumpridas 400 edições. Nestes quase 35 anos, muito mudou no mundo do vinho em Portugal e muito certamente continuará a mudar. Para celebrar este número redondo, falámos com vários protagonistas destas mudanças e antecipamos o que poderá o futuro trazer ao vinho português e mundial.
Ana Rosas, António Luís Cerdeira, João Portugal Ramos, José Lourenço e Luís Pato. Entre intervenientes diretos e novas gerações representativas de diversas regiões vitivinícolas nacionais, percorremos o passado mais recente da história do vinho português, desde os anos 70, quando o país se abriu ao mundo e redescobriu-se enquanto produtor de excelência. Foram cumpridos alguns desígnios, com erros de trajetória pelo meio, mas outros desafios se levantam. Vinhos Verdes, Vinho do Porto e Douro, Dão e Bairrada, Alentejo, Lisboa e Tejo, todas estas regiões conheceram uma enorme evolução e um conjunto de mudanças de relevo, que debatemos com os seus protagonistas.
Na região dos Vinhos Verdes e, mais concretamente, na sub-região de Monção e Melgaço, onde a casta Alvarinho viria a dar cartas e a ser o motor que impulsionou a tendência para a vinificação em monocastas, foi a Quinta de Soalheiro, primeira marca de Alvarinho de Melgaço, a abrir caminhos. Quando, em 1974, João António Cerdeira, com o apoio do pai, António Esteves Ferreira, plantou Alvarinho, plantou igualmente as bases para, oito anos depois, nascer a marca Soalheiro.
Hoje, são os netos do pioneiro, António Luís e a irmão Maria João Cerdeira, quem lidera o projeto. “Nos últimos 40 anos temos vindo a trabalhar a casta Alvarinho como enorme potencial para produzir vinhos brancos, espumantes e outros estilos de vinhos que nem sequer imaginávamos, como as barricas, as ânforas, os ovos de cimento ou inox, ou seja, toda esta panóplia de recipientes de inovação que existe um pouco no mundo”, começa por referir Luís Cerdeira.
Durante o percurso, foi constituído um capital de conhecimento do terroir, ou “território”, que “vai ajudar-nos a criar consistência, o primeiro mandamento da afirmação dos vinhos portugueses”. Ao conhecer tais diferenças “conseguimos aumentar a resiliência face às alterações climáticas. É inegável que o clima está mais instável, transitamos de colheitas mais frias para colheitas mais quentes com maior frequência – isto vai fazer com que o Alvarinho, que há 40 anos não existia a 500 metros”, esteja hoje a altitudes mais elevadas e produza “vinhos que estão nas mesas das pessoas”. A altitude “traz acidez e frescura e isto faz com que haja um caminho de diversificação do conhecimento do nosso território, que aumenta a consistência da casta para o futuro”.
Olhando em diante, “o caminho tem que ser o mesmo, mas com uma preocupação adicional, que é o de levar às pessoas uma sensação do nosso território muito mais pura e direta”, sublinha Luís Cerdeira. “Vejo-o como uma fotografia aérea. Olhávamos para o território como uma manta de retalhos, com parcelas diferentes, e dessas conseguimos criar consistência e qualidade. Sobre essa manta de retalhos vamos fazer zoom e de cada parcela fazer o detalhe, o pormenor para assim continuar a afirmar o Alvarinho de Monção e Melgaço”.
Outra questão que assume olhar com preocupação “são as vinhas velhas – um património genético conservado que deve ser replicado”. Nos Vinhos Verdes, esclarece, “as vinhas são como corredores olímpicos, que produzem mais e morrem mais, por isso temos que ter uma estratégia para as vinhas velhas”. Que, acrescenta, são “origem de vinhos diferentes”.
Douro e Vinho do Porto, avanços e recuos
A casa Ramos Pinto, fundada pelos irmãos António e Adriano, ocupa um lugar de destaque no imaginário simbólico do Vinho do Porto, fruto não apenas dos irreverentes e iconoclastas trabalhos publicitários da viragem dos séculos XIX e XX como estratégia de exportação para mercados como o Brasil, mas também, a partir dos anos 70, dos estudos conducentes a toda uma nova visão da viticultura duriense, encabeçados por José António Rosas e o sobrinho, João Nicolau de Almeida e, até, mais recentemente, pela criação de uma das marcas mais emblemáticas dos vinhos tranquilos do Douro – falamos do Duas Quintas, cuja primeira edição data de 1990 – quase em paralelo com o nascimento da própria Revista de Vinhos!
Em finais de 1981, o estudo enológico de José António Rosas e João Nicolau de Almeida seria um dos elementos de base, juntamente com os dos especialistas em viticultura, como Nuno Magalhães e Antero Martins, para que, em 1984, fosse lançado o famoso PDRITM - Projecto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes, programa de apoio à plantação de 2.500 novos hectares de vinha no Douro e à reconversão de umas quantas centenas. Reduziu-se a densidade de plantas por hectare, quebrando a tradição do Douro, que está agora a retomar as práticas antigas.
Ana Rosas, hoje ‘master blender’ da Ramos Pinto e quem, com Jorge Rosas, calhou suceder a João Nicolau de Almeida, refere que, ao longo destes quase 40 anos, “o Vinho do Porto mudou… e não mudou – avançou e voltou atrás”. A viticultura duriense caracterizava-se por vinhas em ‘field blend’, “com muitas castas misturadas”, tendo passado “por uma fase monocastas”, para “voltarmos a ter vinhas com algumas castas misturadas ou fazer co-fermentação”. Em 40 anos, “passou-se de arrancar praticamente todos os lagares das quintas maiores para colocar autovinificadores que, além de máquinas horrorosas, eram muito barulhentas e deram cabo do vinho, para dar um passo atrás e voltar aos lagares”. Ou seja, percebeu-se a valia do “método tradicional, com as nuances de métodos mais modernos, e conseguiu-se recuperar essas práticas, com base científica”.
Desta forma, “o que mudou foi destruir o que havia de bom, perceber que foi uma asneira e voltar atrás. Entrei numa fase que estava a mudar para a sabedoria antiga, mas no final dos anos 70, década de 80 e princípio de 90 houve uma tábua rasa do antigo que não correu bem e teve que dar um passo atrás, com mais conhecimento – não houve vergonha de voltar atrás”, enaltece.
Uma das preocupações dos trabalhos conduzidos por José António Rosas e João Nicolau de Almeida foi a constatação do facto de que a introdução da mecanização seria a ser essencial numa região com progressivas carências de mão-de-obra – o que veio a acontecer, concorda Ana Rosas. “O estudo das castas foi para tentar rentabilizar a viticultura com as castas, para haver uma segunda opção para além do Vinho do Porto. Foi feito um estudo que conduziu a essas cinco castas [tintas] - Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz e Tinto Cão -, mas foi sempre dito que seria um estudo para continuar, o que fizemos e temos vindo a fazer”. “Infelizmente”, prossegue, “o que se verificou é que nunca mais ninguém fez mais algum estudo científico e divulgou-o publicamente. É um problema que temos, este de não conseguir trabalhar em equipa. Mas temos vindo a colaborar e vemos que a viticultura está cada vez mais precisa”. Por sua vez, a escassez de mão-de-obra “é um problema endémico, no Douro ainda mais, porque temos elevados custos de produção, cada vez a produzir menos”.
No entanto, conclui, “o Douro é extraordinário, nas diferenças de altitude, exposições, vinhas velhas, com que conseguimos fazer grandes vinhos”. Na Ramos Pinto, a aposta será cada vez maior nas categorias especiais: “é a única maneira de ter alguma consistência” e, com isso, “aumentar os preços” – “e faz melhor a toda a gente beber melhor”.
O novo Dão das velhas tradições
As décadas mais recentes do Dão foram de afirmação. Esta (re)começou nos anos 90, com o reposicionamento das quintas produtoras e nomes de relevo, como Álvaro de Castro, da Quinta da Pellada, Eurico Amaral, da Quinta da Fata, Manuel Vieira e a Quinta de Carvalhais, ou as Quintas dos Roques e das Maias, com Luís Lourenço e o sogro, Manuel Lopes Oliveira. Aqui, com Virgílio Loureiro, primeiro, e Rui Reguinga, depois, surgiram alguns dos mais emblemáticos vinhos do Dão, como os célebres Jaen ou Encruzado. A Quinta das Maias, localizada em S. Paio de Gouveia, vinhas de serra, possui 25 ha., dos quais 8 ha. respeitam à casta Jaen. Nos Roques, contam-se cerca de 35 hectares, dos quais cerca de 75% respeitam a tintos, grande parte em vinhas misturadas com mais de 40 anos.
José Lourenço, filho de Luís e neto do fundador, Manuel Lopes Oliveira, recorda que o percurso começa a partir de “uma semente do meu avô, que queria construir um futuro para a família, relacionado com a vinha. Durante os anos 80 construíram uma adega moderna e apostou-se forte nas tradições, mas sempre tentando perceber a razão de ser dessas tradições”. Em 1992, “o meu pai entra para ajudar o avô, numa altura em que o Dão conhece um forte impulso, fruto de pessoas como Álvaro de Castro ou Manuel Vieira”. Começaram a explorar “o que havia de específico na região, nomeadamente os monocastas, não para produzir monovarietais, até porque na altura não era permitido, mas para perceber melhor o que cada parte confere ao lote – isto é uma lógica um pouco matemática, que foi introduzida pelo meu pai, que era professor da disciplina”, ri.
Neste processo, “descobrimos que algumas castas por si só produziam vinhos extramente equilibrados e interessantes que nos ajudaram a projetar” o mercado externo. Mas, para além de “apresentarmos a especificidade da região em duas ou três castas, a associação pelos lotes cresceu muito. Esse foi um trabalho que fizemos cada vez mais, por exemplo com a casta Barcelo na Quinta das Maias, acontece nos Roques com uma vinha de Baga que voltamos plantar, depois de ter sido abandonada na região; com o Terrantez ou o Jaen nas Maias”, reflete.
Esta última variedade é bem ilustrativa desse percurso, acrescenta: “Nos anos 90 a Jaen era muito mal vista, porque era uma casta de sobreprodução, amiga dos produtores de uva, numa altura em que as cooperativas dominavam a região. Esta sobreprodução, à qual acresce o facto de a casta ser normalmente plantada nas piores localizações, conduzia a desequilíbrios de maturação - mas continua a ser a mais plantada nas Maias. Na minha opinião, será talvez a casta para destacar o Dão das outras regiões do país – não a Touriga Nacional”. Aliás, a ‘Touriga Nacionalização’ do Dão, que foi “positiva em termos de notoriedade dos vinhos de Portugal no exterior”, “não é benéfica para a região nem para os produtores” - e até injusta para a casta. “Tentamos manter a diversidade de castas que temos nas nossas vinhas, nunca abandonar uma variedade precocemente, queremos explorar e estudar. Nos Roques tínhamos uma vinha de Bastardo, que exploramos e estudamos durante 25 anos, nunca fizemos nada dela e arrancamos para plantar uma vinha em mistura de castas”.
Nos anos 2000, a Quinta dos Roques fez parte de um movimento até então quase inédito no nosso país, que passou pelo agrupamento de vários produtores que, operando em ‘coopetição’, juntaram esforços para promoção externa. A par dos Douro Boys, a Independent Winegrowers Association (IWA), que reuniu cinco produtores de várias regiões (Alves de Sousa, Luís Pato, Quinta de San Joanne, Quinta do Ameal e Quinta dos Roques) resultou num “trabalho pioneiro, que desempenhou a sua função muitíssimo bem para a exposição no estrangeiro dos vinhos do Centro e Norte de Portugal”.
A diferenciação constitui, na perspetiva de José Lourenço, o grande desafio do Dão. “A harmonização dos perfis de vinhos, sobretudo por parte dos grandes produtores”, não é benéfica, refere. O Dão “deve manter a tradição dos ‘field blend’”, vinhas essas que “estão a desaparecer a velocidade vertiginosa e convertidas em vinhas monocasta, pois são mais fáceis de tratar e vindimar; somos dos poucos produtores no Dão que hoje planta em ‘field blend’”, assegura. Recorda os incêndios de 2017, quando o fogo levou uma vinha em mistura de castas. Ao replantar, “o meu pai lembrou-se de ir atrás e plantar uma vinha misturada de castas brancas e tintas; vamos tentar recuperar essa tradição aos olhos de hoje para perceber se esse estilo de vinho tem procura no mercado. O trabalho de monovarietais vai continuar, é importante para nós, mas é um projeto lateral aos lotes, que é a grande tradição do Dão”, conclui.
A Bairrada de Luís Pato, uma questão de química
Nome incontornável da moderna Bairrada, Luís Pato refere que “há uma Bairrada desde o tempo que era coutada dos monges de Cister, quando a capital era Coimbra. Há uma outra Bairrada, do tempo em que o centro de investigação e tecnologia era a Estação Vitivinícola da Anadia”, liderada pelo primo do seu avô, Mário Pato. “Mal o conheci mas com quem me identifico pois, sendo um homem da agronomia, era químico. Mas, apesar de não gostar muito de Baga, dinamizou o conhecimento em enologia e centrou-o na Anadia, dentro de Portugal, sem copiar os franceses”.
Luís Pato resume a sua missão: “Tento entender por que na nossa região está lá a Baga – por influência dos monges Cister, que ainda hoje se faz sentir. E o meu trabalho ao longo destes 43 anos foi tornar a Baga uma casta de reconhecimento mundial”. A ligação deste produtor à Bairrada “surge de forma diferente, pois o meu pai era engenheiro químico e pensava que ia fazer vinho de tudo menos uva – é um peso que ainda hoje tenho; por isso faço os vinhos com mínimo de intervenção possível – não chaptalizo, não acidifico – na Bairrada não é preciso”.
A visão de hoje é diferente da que tinha quando começou, “fruto da evolução de tudo o que vi ao longo dos anos e em todo o mundo”. Recordando o seu trajeto, Luís Pato aponta “várias fases de mudanças”: desde logo, em 1985, quando começou a desengaçar; a segunda fase, em 1990, assistiu à redução de produção, “que só teve reflexos nos tintos em 1995, quando comecei a fazer a monda bem feita e a Baga ficou mais madura”. O problema da Baga era, estima, que “naquele clima atlântico, com grande carga de humidade, para uma uva que é prima do Nebiollo e do Pinot Noir, é mais sensível à podridão. Com a chegada da chuva na vindima, a Baga apodrecia mais facilmente”.
Para antecipar a maturação, a monda era a prática ideal. “Começou a ser bem feita em 1995 mas o reflexo dessa técnica surge só em 1996, que foi um ano horrível na Bairrada, mas do qual tenho ainda vinhos extraordinários. Porquê? A monda faz com que os cachos fiquem mais maduros, antecipa a maturação e a colheita – quando veio a chuva consegui ter uvas maduras e prontas, o que demonstrou que a técnica permitia apanhar antes do apodrecimento. Com isto consegui inverter a situação e ter oito anos bons de Baga em vez dos dois habituais da Bairrada”.
Mais tarde, surge a adoção de outras técnicas, como a crioextração para produzir um “colheita antecipada” para o neto mais velho, Francisco, ou a espumantização de vinhos feitos exclusivamente a partir Baga, sem qualquer adição de sulfuroso ou de açúcar: “Com uma cajadada apanhei dois coelhos – sem usar carvão (sou enólogo e sei que destrói aromas) ou PVPP (sou o patrão e é muito caro…), primeiro faço hiperoxigenação para destruir tudo o que é cor e taninos verdes. Depois engarrafo como espumante normal”. Ao fim de alguns anos, o oxigénio desaparece por ação das borras das leveduras autolisadas e ganha volume e os aromas do argilo-calcário.
Olhando para o futuro a partir “daquilo que sei hoje”, Luís Pato assume que “a Bairrada é uma região de brancos e espumantes e tintos de Baga - para manter a originalidade, nada de castas voadoras”. E assegura que “o grande espumante da Bairrada vai ser de Baga, por muito que custe aos bairradinos”. Por outro lado, o grande segredo e o grande objetivo da Bairrada deve ser “não usar ácidos – por não precisa, a Baga é ácida, o Sercial é ácido, Bical é ácido. O importante é a acidez que vem da vinha, e esse será o grande trabalho, na minha visão do futuro, dos enólogos da Bairrada. Deixar que as castas possam sublevar o clima e o vinho”.
O nome João Portugal Ramos
Mais a sul, João Portugal Ramos foi um dos grandes pioneiros e ‘criadores’ do moderno Alentejo e, até, de uma certa prática da enologia, somando consultorias na então Estremadura e Oeste, para além do Alentejo – e formador de nomes como Jaime Quendera, Mário de Andrade ou Rui Reguinga, antes de se estabelecer em nome próprio, com marcas como Vila Santa e Marquês de Borba.
Para o enólogo e produtor, o que mais mudou desde os anos 80 “foi a mentalidade dos produtores, com o gosto de fazer bem e a necessidade de fazer cada vez melhor- não conheço nenhuma região em Portugal onde não se possa fazer bons vinhos, desde que se respeite a região e as regras básicas da enologia; algumas regiões partiram à frente, outras que vieram de trás ultrapassaram”. Assim, prossegue, “passamos de uma fase em que os vinhos bons eram poucos e não havia vertente comercial pois todos os vinhos bons se vendiam. Hoje não é assim, pois a qualidade subiu vertiginosamente; quem fizer menos bem tem poucas hipóteses de singrar. Vamos continuar a ver Portugal no sentido de chegar ao lugar que deveria ter alcançado há muito tempo”.
No caso do “seu” Alentejo, João Portugal Ramos destaca que, à data, “o tecido vitícola do Alentejo estava envelhecido, no sentido em que as vinhas eram pouco produtivas, mas davam vinhos com bastante concentração, o que fez com que procura superasse largamente a oferta” e levou ao interesse dos investidores. E exemplifica: “Em 1998, paguei as uvas a 400 escudos, dois euros nessa altura. Do meu ponto de vista, não foi um bom movimento por parte do setor, no Alentejo, pois teve uma oportunidade de ouro de, não tanto fazer subir os preços das uvas; antes pelo contrário, agarrar esse momento de caixa para investir fortemente na produção”. Na altura, “o objetivo era pagar mais aos produtores, o que é bom, mas ‘nem tanto ao mar nem tanto à terra’, como se diz – em cinco anos, as uvas passaram de 100 para 300 escudos, 400 em anos excecionais”. E compara com outras regiões que bem conhece, como o Ribatejo ou o Oeste, então das maiores do país, onde “as uvas valiam 10% dos preços do Alentejo”.
Tudo isto “gerou apetites e as chamadas dores de crescimento aconteceram no Alentejo. O efeito está a achatar e houve uma evolução tremenda, até no perfil de vinhos”. Aliás, “o Alentejo apresentava vinhos fáceis de beber enquanto novos, com ênfase na fruta madura, os chamados vinhos gulosos. E enquanto o mundo mudava o perfil de consumo para esse tipo de vinhos, em Portugal os vinhos de outras regiões eram os que iam cansados para a garrafa, com taninos secos”.
Partindo de trás, tudo no Alentejo “estava por fazer” – na década de 70 tinha 2% de quota de mercado, sublinha. “As pessoas aprendem com os erros dos outros e foi mais fácil lá chegar”. Hoje, no entanto, “está a resolver o problema do súbito aumento de quantidade”. Por outro lado, com a pressão sobre o plantio, o Alentejo “fez por vezes más escolhas” dada a escassez “no material vegetativo, que funcionou contra a região”. O Alentejo “passou de cerca de 10 mil hectares de pouca produção para cerca de 23 mil de elevada produção. Quero recordar que na década de 80, a média de produção era inferior a 30 hl./ha., produções ao nível de Borgonha”.
Mas, entretanto, muito mudou no setor do vinho, incluindo na vertente comercial e distribuição. João Portugal Ramos “cresceu no mundo do vinho” seguindo a máxima pela qual “as marcas constroem-se na restauração”. O que chama de “novo paradigma da venda de vinhos nas grandes superfícies veio abanar” essa conceção; e “vemos hoje produtores quase desconhecidos na restauração a fazerem volumes que nunca passaria pela cabeça de ninguém para os chamados exclusivos das grandes superfícies”, fenómeno que “veio dar um abanão brutal no mercado”. “Se é coisa que vai durar não sei. As pessoas têm que se reinventar para vender vinho”. Porém, confessa que, até “pela minha escola francesa, continuo a pensar que as marcas constroem-se na restauração. A marca subsiste no equilíbrio entre o ‘on’ e o ‘off trade’. Estando os dados lançados da forma que estão, muito poucas marcas vão sobreviver nos grupos em Portugal, porque são poucos e milhares de marcas a vender”.
E afirma-se espantado por assistir hoje a fenómenos como em Bordéus, com “grandes produtores de a arrancar vinha e terrenos que valiam 25 mil euros vendidos a seis. Há outra visão”, segundo a qual “há pouco vinho no mundo, com a chegada de novos consumidores”. Especula se a crise do Covid terá contribuído para estas dinâmicas de mercado, pois “o pequeno produtor bordalês não estava vocacionado para o ‘off trade’” - e nesse aspeto “nós, portugueses, até tivemos sorte, pois com o ‘on trade ‘parado por esse mundo fora e a explosão de vendas no ‘off trade’, beneficiou quem pôde estar e sustentar esse precipício que todos atravessamos”.
Em mais de três décadas, o mundo mudou a uma velocidade vertiginosa e o setor do vinho mudou com ele – serão, aliás, poucos os setores económicos tão multidisciplinares e abrangentes como este. Ainda bem que assim é – e por cá continuaremos para reportá-lo.